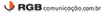Mercado de crédito de carbono entra na mira de empresas
01/09/2020 - 08:17h

Imagem: Shunga_Shanga, de envatoelements
A negociação de direitos de emissão de carbono, com compra e venda de títulos financeiros numa espécie de "mercado verde", ainda parece algo de um futuro distante no Brasil, mas algumas grandes empresas já começaram a calcular internamente o "preço" de liberar gases do efeito estufa. O objetivo é sair na frente numa tendência que parece irreversível -- a taxação sobre as emissões -- e se preparar para o mercado global previsto no Acordo de Paris, de 2015. Quando for realidade, o sistema internacional poderá render bilhões para países que consigam ir além de suas metas de redução da poluição, e o Brasil é candidato a sair ganhando.
Líderes do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (Cebds), que reúne os maiores grupos empresariais do País, estimam que os "créditos de carbono" oriundos da preservação da Amazônia poderiam render US$ 10 bilhões ao ano para o Brasil.
Sem estimar valores, estudo recente da petroleira Shell calculou que o País teria capacidade de absorver da atmosfera 2,7 bilhões de toneladas de gases por ano -- conforme a companhia, para conter o aquecimento global, é preciso cortar a emissão de 11 bilhões de toneladas por ano. Para o Brasil sair ganhando com isso, o sistema internacional de "compra e venda" de emissões previsto no Acordo de Paris precisa avançar, mas as discussões congelaram por falta de consenso.
Ações de governos
Enquanto a diplomacia não se resolve, alguns locais vêm avançando na taxação do carbono como estratégia para controlar as emissões, especialmente na indústria, nos transportes e na geração de energia. Em 46 países e 28 governos subnacionais há alguma forma de cobrança, segundo um relatório do Cebds. Alguns governos optaram pela saída simples de criar um tributo sobre emissões. Outros preferiram limitar a poluição criando mercados locais de direitos de emissão, dos quais participam as empresas poluentes -- os casos mais famosos são o da União Europeia (EU) e o da Califórnia, mais rico e populoso Estado norte-americano.
No Brasil, o CEBDS tem defendido essa segunda opção, ao estilo da UE e da Califórnia, como mostrou o Estadão em julho. O Ministério da Economia trabalha no assunto e deverá apresentar até o fim deste ano as diretrizes técnicas para criar um mercado nacional, embora haja dúvidas sobre o espaço para o tema ir adiante na agenda ambiental do governo, frequentemente criticada pela leniência com o desmatamento da Amazônia.
Um mercado brasileiro tenderia a ser pequeno, porque quase a metade dos gases eliminados por aqui está associada ao desmatamento, enquanto a cobrança sobre o carbono é considerada eficaz para segurar a poluição de fábricas e usinas de energia. A lógica de cobrar por emissões é, pelo preço, incentivar as atividades menos poluentes e reduzir as mais poluentes ou, ao menos, incentivá-las a reduzirem suas emissões.
Como é em grande parte ilegal e não agrega valor econômico, o desmatamento reage menos a incentivos de preço. Embora difícil politicamente, acabar com a derrubada das florestas teria pouco custo para a atividade econômica, disse Ronaldo Seroa da Motta, especialista em economia do meio ambiente e professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). Quando o Brasil conseguir resolver o desmatamento, as atenções deverão se voltar para as emissões da indústria.
Setor privado
Por isso, atuar em um mercado local deixaria o setor privado brasileiro pronto para participar de transações internacionais, quando forem regulamentadas. Além disso, do ponto de vista da grande indústria, o jogo é global. Com a cobrança pelas emissões se espalhando pelos países, controlar o impacto ambiental e calcular o custo da poluição será importante tanto para exportar quanto para atrair investidores em ações e títulos de dívida, disseram executivos ao Estadão. Será um fator de competitividade nos anos de retomada da economia após a recessão provocada pela covid-19.
As empresas que saíram na frente focam tanto na redução de suas emissões quanto na compensação da poluição investindo em projetos sustentáveis. A Natura & Co., por exemplo, colocou como meta interna chegar a 2030 -- 20 anos antes do previsto no Acordo de Paris para a indústria -- com emissões líquidas zero, em todo o grupo, que inclui as marcas The Body Shop, Avon e a australiana Aesop. A divisão Natura já faz isso.
De 2007 a 2018, foram compensadas 3,6 milhões de toneladas de gases, gerando R$ 1,6 bilhão. Em 2019, apenas a Natura investiu R$ 33,5 milhões nas comunidades impactadas, incluindo 38 projetos que geraram créditos de carbono.
Nos processos internos, segundo Denise, há uma busca contínua por materiais de menor impacto -- como plástico reciclável ou biodegradável nas embalagens -- e produção mais eficiente. Os projetos de desenvolvimento de produtos são selecionados num método de cálculo interno, que inclui as emissões nos custos de produção.
A Natura também instalou painéis solares para geração de eletricidade na fábrica de Cajamar (SP) -- o consumo de energia elétrica é a maior "pegada ambiental" dos processos internos, mas os painéis abastecem apenas áreas administrativas.
O desafio de reduzir as emissões é maior nas atividades industriais que mais poluem, como siderurgia, química e petroquímica, petróleo e gás, e a fabricação de cimento, mas as empresas se movimentam mesmo assim.
A subsidiária da Shell no Brasil criou uma área para calcular em "créditos de carbono" as ações de reflorestamento, restauração de áreas degradadas pela pecuária ou de apoio a projetos que evitem o desmatamento. Sozinha, a indústria de petróleo e gás respondeu por 3,9% das emissões globais em 2016, conforme dados compilados pela entidade ambientalista americana Instituto de Recursos do Mundo (WRI, na sigla em inglês).
Na indústria do cimento, que contribui com 3% nas emissões globais, ainda segundo o WRI, para além da compensação com o financiamento de projetos sustentáveis, a luta é por combustíveis alternativos, já que o foco das emissões são os fornos que usam coque de petróleo para transformar calcário e argila em cimento, a 1.500 graus Celsius, contou o coordenador de Sustentabilidade da Votorantim Cimentos, Fábio Cirilo.
Por isso, a Votorantim, com fábricas em 11 países, investe em combustíveis alternativos ao coque. O destaque são resíduos sólidos -- principalmente, pneus e lixo urbano não reciclável -- e biomassa -- que varia conforme o local, como caroço de açaí e cavaco de madeira, no Brasil, ou caroço de azeitona, na Espanha. Nas fábricas do Brasil, 29% do combustível vêm de fontes alternativas. Globalmente, a fatia subiu a 22% em 2019, ante 18,5% em 2018.
Segundo Cirilo, a companhia já inclui nas avaliações de projetos de investimento cálculos internos sobre o custo de emissões, porque é impossível escapar da meta de zerar as emissões nas próximas décadas. "Esse cenário vai acontecer. Por mais que existam barreiras, não chegar a zero tem um impacto muito grande, não só ambiental, mas econômico. Os grandes investidores do mundo começaram a perceber que não estamos falando de uma agenda de risco só ambiental", disse.
A pressão de investidores financeiros vem crescendo. Desde que a B3, dona da Bolsa, abriu sua plataforma para a negociação de "títulos verdes", em novembro de 2018, 11 empresas levantaram R$ 3,6 bilhões. Segundo Cirilo, o posicionamento da Votorantim contou na hora de contratar, ano passado, um "empréstimo ligado à sustentabilidade", de US$ 290 milhões, com um sindicato de bancos. Nesse tipo de operação, o juro cai se o cliente atingir metas de redução de emissões.
O foco na sustentabilidade também pesou nas operações financeiras recentes da Irani Papel & Embalagem, conforme Leandro Farina, gerente de Sustentabilidade da empresa. Ano passado, a Irani levantou R$ 580 milhões com a emissão de "títulos verdes" -- títulos de dívida corporativa que, de forma certificada, custeiam gastos em atividades sustentáveis -- e, em julho passado, mais R$ 405 milhões com o lançamento de novas ações na Bolsa.
Nesse caso, o setor, um dos mais competitivos da indústria nacional, ajuda, já que a fabricação de papel e celulose responde por 0,6% das emissões globais, nos dados do WRI. Por um lado, o reaproveitamento de matérias-primas, como sobras de madeira -- tanto no processo produtivo quanto na geração de eletricidade em usinas de biomassa --, reduz as emissões.
Por outro, o cultivo das árvores para extrair a celulose captura carbono da atmosfera -- independentemente de outros impactos, como no uso do solo. A Irani, que mapeia emissões e neutralizações desde 2005, tem um saldo positivo entre emissão e captura. Para Farina, a precificação das emissões é um "caminho sem volta" e empresas como a Irani saem na frente.
Ceticismo
Mais pessimista, o professor Carlos Eduardo Young, do Grupo de Economia do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Gema) da UFRJ, vê as ações iniciais de algumas empresas como pontuais, focadas apenas em melhorar a imagem corporativa ou em atender demandas de nichos de consumo -- caso dos cosméticos -- e pressões de poucos investidores. No fim das contas, as emissões do Brasil, sétimo na lista dos que mais poluem, seguem elevadas, por causa do desmatamento e de indústrias intermediárias poluentes, como mineração, siderurgia e petróleo e gás.
Para o professor, apenas a ação regulatória do Estado, como ocorre na cobrança por emissões na Europa e na Califórnia, terá efeito. O problema é que, segundo Young, a agenda do governo Jair Bolsonaro, tanto na política ambiental nacional quanto nas negociações do Acordo de Paris, está voltada para reduzir a regulação do Estado e a fiscalização contra crimes ambientais. O assunto também não parece se prioridade na sociedade. Assim, avanços no exterior -- principalmente se o Partido Democrata vencer as eleições presidenciais nos Estados Unidos -- podem demorar a chegar aqui.
"Essa economia do baixo carbono é do século XXI, mas o problema é que, no Brasil, estamos voltando para uma economia pré-industrial", afirmou Young. /
fonte: Udop, com informações de O Estado de S.Paulo (escrita por Vinicius Neder e Denise Luna)